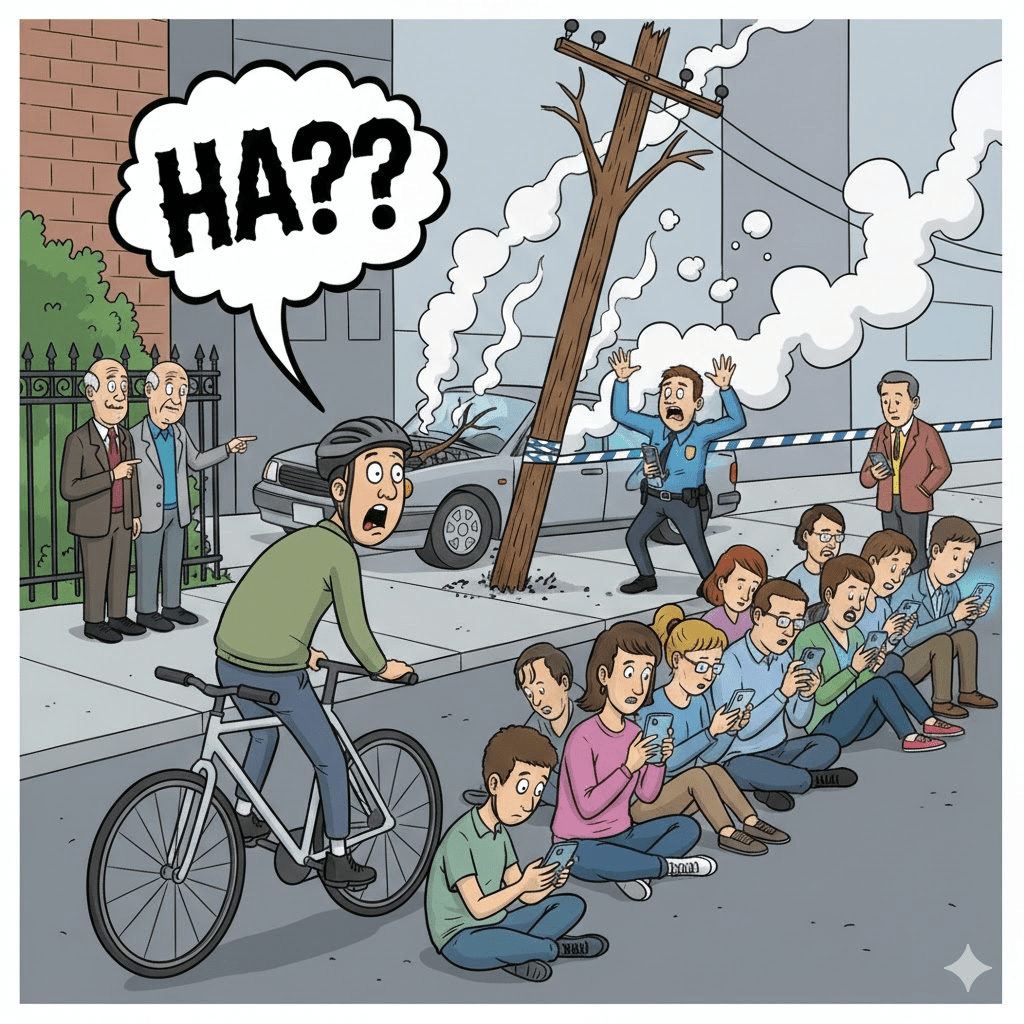Por Tela Mística

quando o silêncio revela mais que mil palavras
Ele nasceu entre montanhas e morreu no mesmo vale. Nunca foi para outro lugar. Nunca sonhou alto. Nunca exigiu mais do que lhe foi dado. E mesmo assim — ou talvez por isso — viveu uma vida inteira.
No filme austríaco Uma Vida Inteira (A Whole Life, 2023), dirigido por Hans Steinbichler e baseado no romance de Robert Seethaler, acompanhamos a existência modesta de Andreas Egger, um homem comum, invisível aos olhos do mundo, mas imenso em sua capacidade de suportar. Ele não tem grandes frases. Não tem feitos heroicos. Não busca transcendência. Mas há uma espiritualidade silenciosa em cada passo que dá.
Desde pequeno, Egger conhece a dureza. Órfão de pai e mãe, criado por um tio brutal que o espanca até deformar-lhe a perna, ele aprende a se calar antes mesmo de aprender a falar. Naquele lar frio, onde afeto é uma palavra desconhecida, o menino cresce carregando o peso do abandono e da violência. Anos depois, a própria vida parece encarregar-se de devolver ao tio parte da dor que causou — como se o universo, em silêncio, também equilibrasse suas contas.
Mas Andreas não guarda rancor. Não busca vingança. Ele apenas vive.
Vive com o que tem, onde está. Trabalha carregando troncos, montando cabos, enfrentando neve, frio, luto e solidão. Vive entre poucos, fala pouco, mas sente muito. Um dia, ama. Marie. Um amor delicado, limpo, ingênuo. Um amor que não precisa se justificar. Mas, como tudo em sua vida, esse amor também é levado — não por escolha, mas por fatalidade. E Egger, mais uma vez, abaixa a cabeça e continua.
Esse filme é sobre quem fica. Sobre quem não foge. Sobre quem permanece mesmo quando tudo dentro de si queria ir embora. É sobre os que sofrem calados, os que carregam o mundo nos ombros e ninguém vê. É sobre uma vida de pobreza, de dor, de injustiça — mas também de dignidade. De presença. De uma entrega tão profunda ao simples, que se torna quase sagrada.
Andreas Egger envelhece sozinho.
Conhece uma professora idosa gentil, que se aproxima com afeto e lhe oferece companhia. Ela deseja alguém ao seu lado — e por um instante, o filme nos faz acreditar que ele talvez aceite esse novo afeto. Eles se deitam, partilham o silêncio e a ternura. Mas Egger, com a dignidade de quem amou uma única vez e não esqueceu, se levanta, veste a roupa e pede desculpas. Diz que só teve uma mulher: Marie. E foi o bastante. A professora chora. Não há drama, nem orgulho — apenas uma fidelidade que atravessa o tempo e a solidão. Uma cena simples, mas devastadora, que nos mostra que, para alguns, o amor é eterno — mesmo que tenha durado tão pouco.
Quase no fim do filme, Egger pega um ônibus rumo à chamada “última linha”. O nome já anuncia o destino: não é apenas o fim do trajeto, mas o fim da própria existência. Durante a viagem, ele observa as montanhas, o vale, as casas… tudo tão familiar. É então que compreende: nunca saiu dali. Viveu, sofreu, amou, trabalhou — tudo no mesmo raio de terra. Não conheceu o mundo, mas talvez tenha conhecido algo mais raro: a si mesmo. E nesse percurso final, sem glória nem grandes eventos, ele encontra uma espécie de paz. A “última linha” é também a primeira: a que nos convida a olhar para dentro e, enfim, descansar.
Já idoso e vivendo sozinho numa casa que um amigo lhe deu, Egger não morreu deitado, nem cercado de afeto, tampouco em agonia. Morreu como viveu: em silêncio, sentado numa cadeira, escrevendo palavras que jamais seriam lidas. Era uma última carta para Marie — seu grande amor, perdida há tanto tempo, mas viva em cada passo da sua memória. Encheu o caixão dela de frases ao longo dos anos, como se, escrevendo, mantivesse os dois vivos. E ali, na solidão da montanha, com a caneta na mão e o coração cheio de passado, ele se despediu do mundo como quem apenas fecha os olhos e atravessa para o outro lado. Não foi uma morte triste. Foi justa. Foi dele.
E então, quando a morte chega — sem aviso, sem espetáculo — ouvimos sua última fala. E ela é tudo o que ele foi:
“Não foi uma vida ruim.”
Nesse momento, o filme não termina. Ele se eleva. Porque essa frase, dita depois de tanta perda, de tanta dor, de tanta ausência, é uma das maiores expressões de sabedoria que o cinema já nos deu. Egger não teve muito. Mas teve o que bastava. Não buscou sentido. Mas encontrou paz. Sua fala final não é otimismo — é aceitação. É presença. É o reconhecimento de que viver, apesar de tudo, foi suficiente. Porque ele já entendeu algo que nós, com tanta pressa, ainda não entendemos: a vida não precisa ser grandiosa. Precisa apenas ser inteira.
🎬 O filme não acabou — há sempre uma cena pós-créditos. Descubra-a em Na Natureza Selvagem
Factótum Cultural