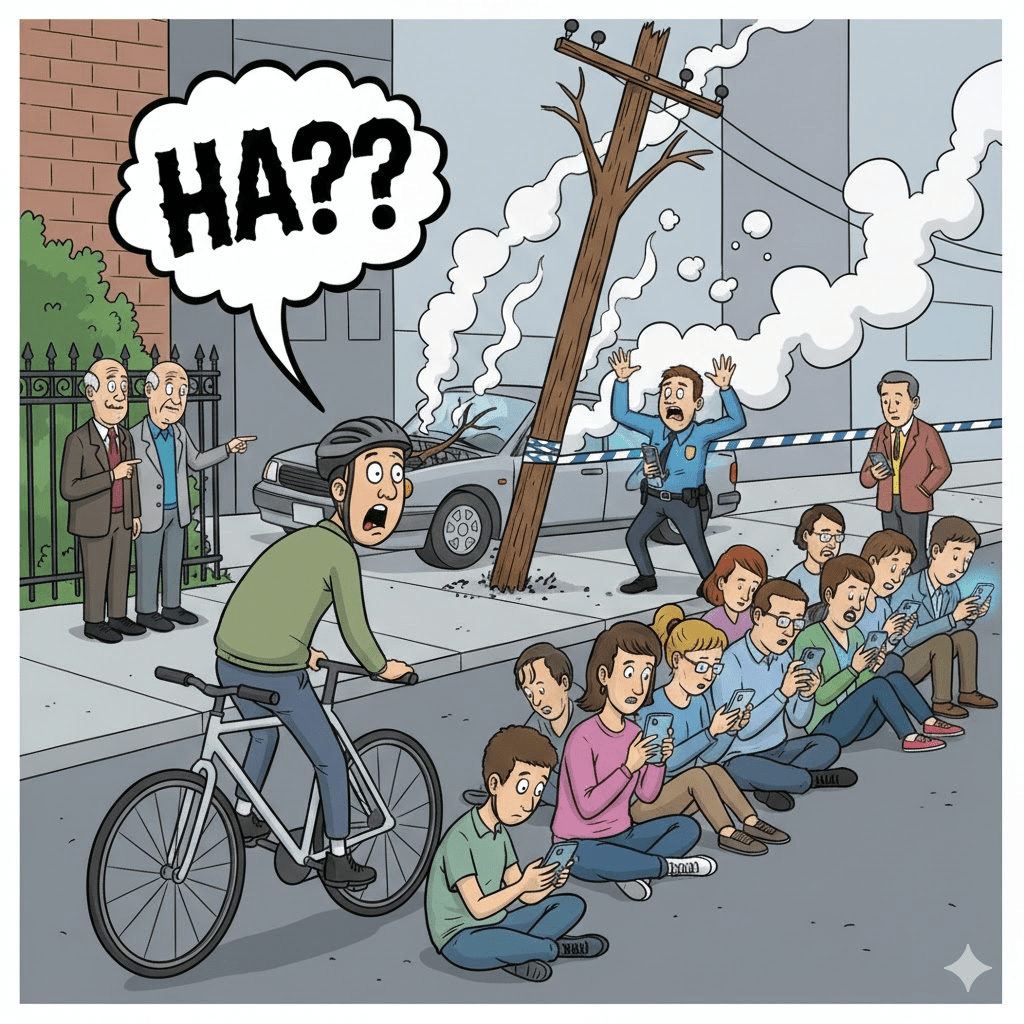por Gisele de Souza Gonçalves

Em uma tarde de domingo, caminhava com minha filha pelo bairro onde cresci e mostrei a ela a casa que foi da minha tia avó. Já falei dela por aqui.
Parei em frente ao portão e relembrei as aventuras da nossa imaginação, das brincadeiras e da tia. Contei como era a casa dela, falei da varandinha e da breve escada de três degraus que subíamos para ter acesso a ela, mas isso era raro, pois parte da casa da tia era alugada e só quando o inquilino não estava que brincávamos lá, o que explorávamos mesmo era o quintal, a nossa florestinha.
Olhei aquelas plantas, algumas já não estavam lá, mas a casa e o quintal tinham suas características originais da minha infância.
Falei pra minha filha que quando tivesse alguém no imóvel, ia pedir para entrarmos e ver como está. Fiquei imaginando esse dia e pensando em qual cheiro teria agora aquele lugar. Voltei ao passado, sorri parada naquele portão de mão dada com minha filha pensando: “Ontem eu era uma criança, hoje tenho uma criança. Como passou tão rápido?”.
Seguimos o caminho compartilhando nossas brincadeiras.
Neste último domingo, passei em frente à casa da tia, estava chovendo e o asfalto em frente a casa dela (já não dela, já não casa), estava cheio de marcas de barro que pneus deixaram. A casa se foi. O terreno é só um terreno agora: sem casa, sem a árvore, sem as outras plantas, sem varanda com escadinha. Minha filha não a conhecerá: não tem mais casa nem florestinha.
No peito, aquela dor que não é dor, mas dói, aperta, assusta, precede a percepção da realidade: a casa foi destruída, retirada; as plantas arrancadas; a visita a qualquer dia para rever tudo que ali havia foi cancelada. No terreno só o barro.
Eu quis relembrar tudo novamente para que ao contrário da casa as lembranças fiquem. Cheguei a uma conclusão: quando adentrávamos o portão que não havia na casa da tia, tinha um portal invisível, mas tinha. Outro mundo era possível, ainda que antes estivera triste, entediada ou magoada, logo passava. Aquele mundo era outro. Eu ia caminhando e encontrava as tábuas colocadas no quintal para evitar o barro que se formava com o acúmulo de água da chuva causado pelo relevo do terreno. As tábuas não eram tábuas, eram pontes que eu imaginava pisar. E quando eu chegava na porta da casa dela, tirava os chinelos para entrar porque as ruas tinham muito mais poeira ou barro do que hoje, e sempre ela dizia “não tire o calçado, minha filha”. Mesmo assim eu os tirava, ordens expressas da minha mãe, sem permissão para descumprir. Depois de abraçar a tia, sentava no sofá e ela já oferecia algo: um pão, uma laranja, uma banana, café com leite, só leite… Eu geralmente nem tinha apetite para tão logo após o almoço, agradecia e avisava que ia brincar.
Logo surgiam mais crianças: meus irmãos ou meus primos ou as crianças de alguma visita que sempre aparecia por lá. As pessoas gostavam muito de conversar antigamente e as crianças, de brincar no quintal. Talvez ainda gostem, mas não façam presencialmente. Por isso, acho que lá tinha mesmo um portal que fazia com que quem chegasse se sentisse bem e demorasse.
Se ele existiu é como a casa da tia agora: invisível, mas está lá todas as vezes em que eu passar em frente àquele lugar tão encantado. E também posso visitá-la nas memórias que registro aqui por precaução, caso um dia me esqueça de algo. A casa da tia será sempre um lugar seguro para visitar.

Gisele Souza Gonçalves. Professora e Doutora pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Mãe. Colunista do Factótum Cultural.
Os artigos publicados, por colunistas e articulistas, são de responsabilidade exclusiva dos autores, não representando, necessariamente, a opinião ou posicionamento do Factótum Cultural.