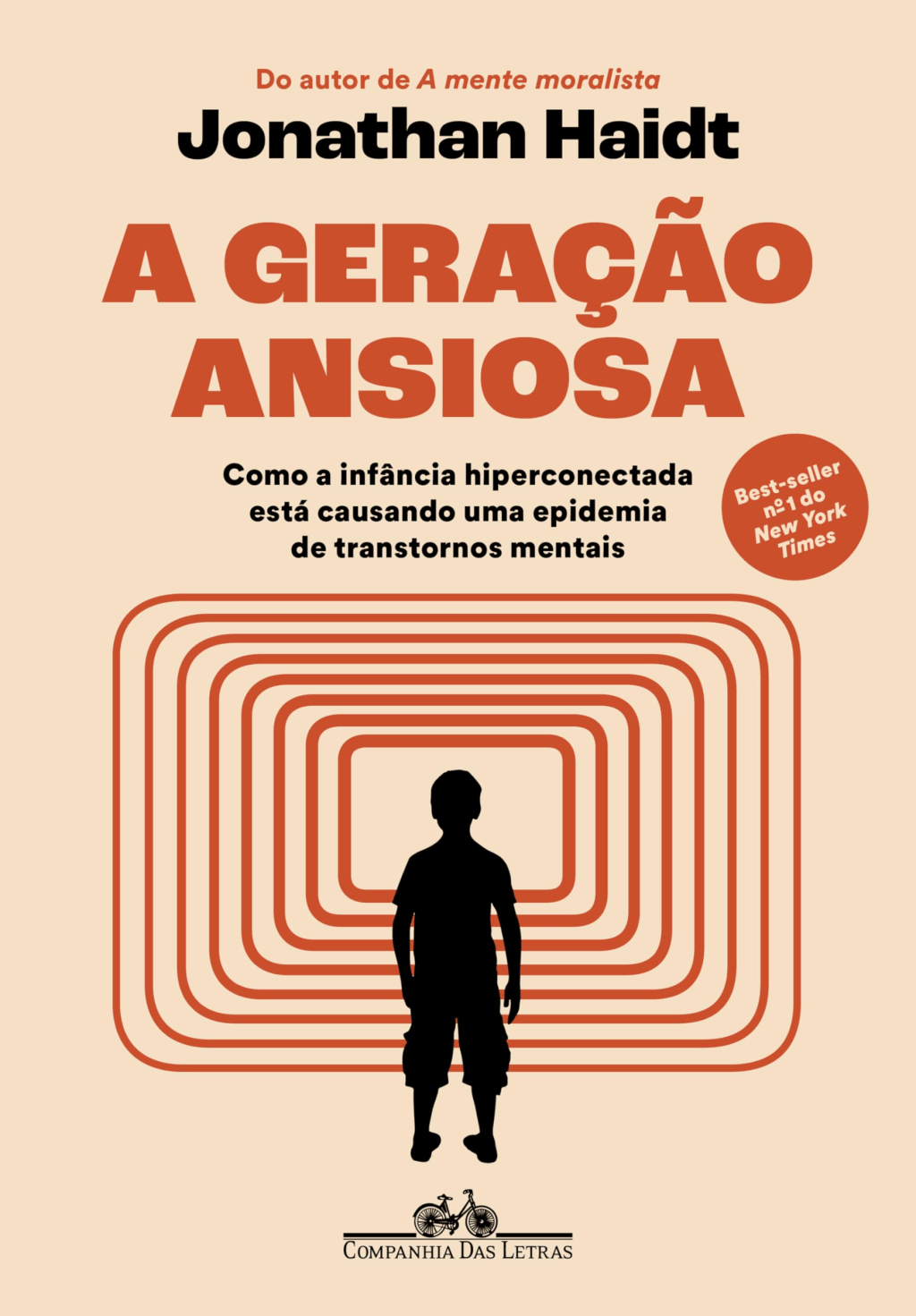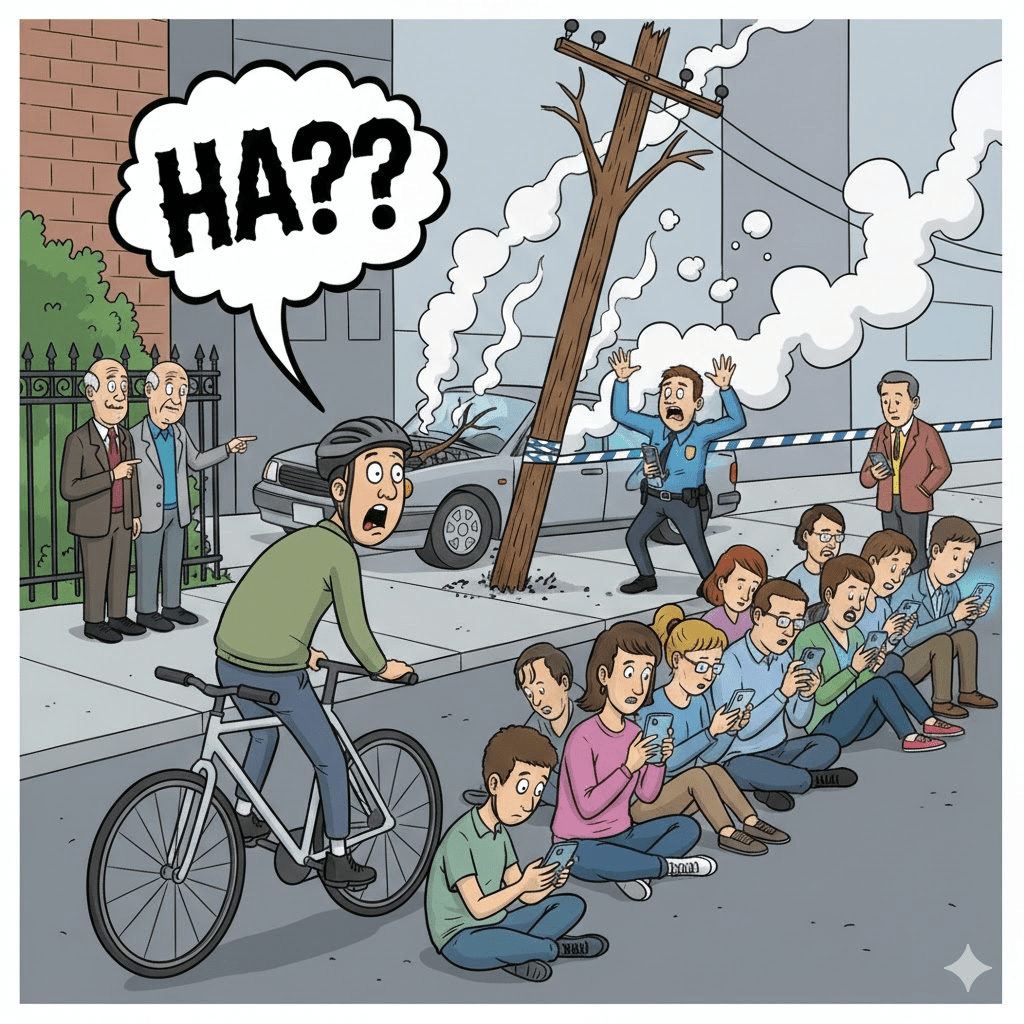Por Faróis Humanos

“Aquilo que não foi curado em nossos ancestrais, vive em nós esperando pela consciência.“
Ela se chamava Maria. Como tantas outras Marias por aí. Nome comum para histórias incomuns. Histórias de dor, de apagamento, de resistência. Maria era uma menina indígena que vivia com sua família na mata, no interior de Minas Gerais, até que foi raptada por um homem branco — um português. Meu ancestral.
Ele não era dono de terras. Era um dos muitos invasores, parte de um sistema que se achava autorizado a tomar o que quisesse: a terra, o ouro, os corpos, a liberdade – inclusive a consciência. Maria foi levada à força. Foi obrigada a ser “mulher” antes da hora. Foi obrigada a calar.
Por muito tempo, essa história dormiu nos porões da minha genealogia. Até que um dia, em um ritual de ayahuasca, vi um índio. Exausto. Cansado de carregar algo que eu não sabia nomear. A imagem foi forte, mas confusa. Saí do ritual com a sensação de estar tocando algo antigo — e verdadeiro.
Fui pesquisar. Conversei com minha família. Reviramos documentos. E aos poucos, os fragmentos começaram a se juntar: Maria existiu. Era indígena. Foi raptada ainda jovem. Viveu e morreu em silêncio. E eu sou parte dessa história.
Foi só recentemente que entendi o que aquela visão significava. O índio cansado era eu mesmo — carregando séculos de dor que não eram só minhas, mas herdadas. Essa é a natureza do trauma ancestral. A ciência chama de epigenética. Os povos originários sempre chamaram de memória do espírito.
Maria não foi exceção. Naquela época, isso era o que se fazia. O corpo da mulher indígena era visto como território conquistado. A violência era institucionalizada. Estuprar, raptar, apagar, escravizar — tudo isso era parte do processo colonizador que ainda se recusa a se encarar no espelho.
O que Maria viveu moldou minha vida de formas que demorei a entender. Explica por que me interesso por temas como violência familiar (inclusive sexual), direitos humanos, autoconhecimento e espiritualidade. Explica por que, mesmo sendo advogado, foi numa floresta e não num tribunal que comecei a entender o que é justiça de verdade.
Hoje é chamado “Dia dos Povos Indígenas”, mas até 2022 o nome oficial era “Dia do Índio” — um termo genérico e colonial, fruto de um erro histórico que por séculos serviu para homogeneizar e silenciar centenas de etnias, línguas e culturas distintas. Só com a Lei nº 14.402, de 2022, o Brasil reconheceu — tardiamente — que não se trata de um único povo, mas de muitos. Ainda assim, mudar o nome não muda o passado. Não é dia de festa. É dia de memória, de verdade, de escuta. Prefiro chamar de povos originários — os verdadeiros guardiões da terra, da floresta e da sabedoria que ainda pulsa sob nossos pés. Os verdadeiros donos dessa terra que chamamos de Brasil.
Vale lembrar que, desde os primeiros séculos da colonização, o rapto e a violação de mulheres indígenas foram práticas comuns e sistemáticas. No auge do ciclo do ouro em Minas Gerais, entre 1700 e 1780, essas violências se intensificaram brutalmente. Com a chegada em massa de colonos portugueses — quase todos homens — e a escassez de mulheres brancas, aumentaram os casos de estupros, uniões forçadas e sequestros de jovens indígenas. Muitas eram levadas de suas aldeias por bandeirantes e sertanistas e entregues como “recompensa” ou “presente” entre os colonos, sob a falsa justificativa de catequese ou colon. Essa história raramente aparece nos livros — mas vive nos corpos mestiços do Brasil e nos silêncios de muitas famílias, como a minha.
Essa é a minha homenagem.
À Maria, minha ancestral.
A todas as Marias raptadas, violentadas, silenciadas, esquecidas.
Aos povos originários que seguem sendo atacados, mas nunca derrotados.
E a cada um de nós que decide quebrar o ciclo de dor e violência, carregado geração após geração.
Eu ainda não sei se sou a cura.
Carrego dores que não começaram em mim e que talvez também não terminem aqui.
Mas ao menos, hoje, consigo ver. E isso já muda tudo.
Talvez meu papel seja esse: lembrar.
Talvez seja o de não repetir.
Ou apenas o de sentir, como um corpo consciente que honra os que não puderam falar.
E se não for cura, que seja começo.
Se não for luz, que seja fogo — para aquecer e iluminar os que ainda vêm.
Se estou aqui hoje, é porque ela resistiu.
Haux!
Atualidade: Segundo o Censo 2022 do IBGE, o Brasil tem hoje 1.693.535 indígenas, um aumento de quase 89% em relação a 2010. Desses, cerca de 54% vivem em áreas urbanos e 46% em áreas rurais, pertencendo a 305 etnias e falando 274 línguas diferentes.
🔦 A luz de um farol aponta para outro. Veja também a história de Christopher McCandless
Facótum Cultural